Até Robinson Crusoé entendia o preço e o valor do dinheiro
Nada é mais importante para o funcionamento de um mercado livre do que o dinheiro. O dinheiro representa metade de cada transação, configurando um lado de todo valor expresso na troca de bens e serviços. Mas afinal, qual é o preço do dinheiro?
A mercadoria com maior aceitação no mercado acaba se tornando o meio de troca preferido de uma sociedade — ou seja, seu dinheiro. Os preços expressos nessa moeda comum tornam possível o cálculo econômico, permitindo que empreendedores identifiquem oportunidades, obtenham lucros e impulsionem o progresso da civilização.
Já sabemos que oferta e demanda determinam o preço dos bens, mas definir o preço do dinheiro é mais complexo. O problema é que não existe uma unidade de medida para aferir o valor do dinheiro, pois já usamos o próprio dinheiro para expressar preços. E, como não podemos explicá-lo em termos monetários, precisamos encontrar outra forma de expressar seu poder de compra.
Pessoas compram e vendem dinheiro (trocando bens e serviços por ele) com base no que esperam adquirir no futuro. Como já vimos, cada decisão individual ocorre na margem. Daí a lei da utilidade marginal decrescente: toda ação é precedida por um julgamento de valor no qual o agente escolhe entre seu objetivo mais importante e o próximo desejo relevante. A lei da utilidade marginal decrescente se aplica aqui como em qualquer situação: quanto mais unidades de um bem alguém possui, menos urgente é a satisfação gerada por cada unidade adicional.
O dinheiro não é diferente. Seu valor está na satisfação extra que pode proporcionar. Seja para comprar alimentos, segurança ou opções futuras, o propósito específico não importa. Quando alguém trocatrabalho por dinheiro, faz isso porque valoriza mais o poder de compra do dinheiro do que o uso imediato do próprio tempo. O custo do dinheiro em uma troca é a utilidade máxima que a pessoa poderia obter ao usar o valor em dinheiro do qual abriu mão. Se alguém trabalha uma hora para poder comer uma carne de primeira, valoriza a refeição mais do que a hora de lazer perdida.
Lembrando que a lei dos rendimentos marginais decrescentes diz que cada unidade adicional de um bem homogêneo satisfaz um desejo menos urgente. O valor atribuído a cada novo recurso diminui à medida que a quantidade aumenta. Só que o que é um bem homogêneo depende de cada pessoa. Como o valor é subjetivo, a utilidade de cada unidade monetária extra varia conforme os objetivos individuais. Para cada pessoa, cada unidade de dinheiro adicional não é homogênea, pois pode viabilizar diferentes finalidades. Para quem deseja apenas comprar cachorros-quentes, uma “unidade de dinheiro” equivale ao preço de um cachorro-quente. Só há ganho de unidade do bem homogêneo “dinheiro para cachorros-quentes” quando se acumula dinheiro suficiente para comprar um cachorro-quente a mais.
Por isso Robinson Crusoé podia olhar para um monte de ouro e considerá-lo inútil: não servia para obter comida, ferramentas ou abrigo. Isoladamente, o dinheiro não tem significado. Tal como uma língua, sua utilidade depende de pelo menos duas pessoas. Dinheiro, acima de tudo, é uma ferramenta de comunicação.
Inflação e a Ilusão do Dinheiro Parado
As pessoas escolhem poupar, gastar ou investir de acordo com sua preferência temporal e expectativas sobre o valor futuro do dinheiro. Se acreditam que o poder de compra vai aumentar, optam por poupar. Se acham que vai diminuir, gastam. Investidores também avaliam essas perspectivas, frequentemente direcionando recursos para ativos que acreditam superar a inflação. Mas independentemente de estar poupado ou investido, o dinheiro sempre está a serviço do proprietário. Até mesmo recursos “parados” cumprem um papel: reduzir a incerteza. Quem mantém dinheiro na mão, em vez de gastar, busca flexibilidade e segurança.
Por isso a ideia de dinheiro “em circulação” é enganosa. O dinheiro não corre como um rio. Sempre pertence a alguém, sempre está em posse de alguém, sempre cumpre uma função. Trocas são ações, e ações ocorrem em momentos específicos. Ou seja, dinheiro ocioso não existe.
Sem a ligação com preços históricos, o dinheiro se descola da realidade e o cálculo econômico individual se torna impossível. Se um pão custava US$ 1 no ano passado e hoje custa US$ 1,10, é possível aferir a direção do poder de compra. Com o tempo, essas observações embasam previsões econômicas. Governos oferecem sua própria versão desse acompanhamento: o Índice de Preços ao Consumidor (CPI).
O índice deveria refletir a “taxa de inflação” com base numa cesta fixa de produtos. No entanto, o CPI ignora deliberadamente ativos de maior valor, como imóveis, ações e obras de arte. Por quê? Porque incluí-los revelaria uma verdade inconveniente para os governos: a inflação é sempre muito mais abrangente do que os responsáveis admitem. Calcular a inflação apenas pelo CPI acaba mascarando uma verdade óbvia: a alta dos preços é inevitavelmente proporcional à expansão da oferta de moeda, cedo ou tarde. O surgimento de dinheiro novo sempre reduz o poder de compra do dinheiro existente em relação ao que ele poderia ser.
Inflação de preços não decorre de ganância de produtores ou problemas logísticos. É invariavelmente resultado da expansão da base monetária. Quando o volume de dinheiro cresce, seu poder de compra cai. Quem está mais próximo da origem do novo dinheiro (bancos, grandes investidores, companhias com ligação estatal) leva vantagem, enquanto pobres e trabalhadores pagam o preço da alta geral de preços.
Os efeitos demoram a aparecer e são difíceis de rastrear de maneira direta, por isso a inflação é considerada uma das formas mais insidiosas de roubo. Ela destrói poupança, eleva a desigualdade e amplia a instabilidade financeira. Ironicamente, até mesmo os ricos estariam melhores sob um regime monetário sólido. No longo prazo, a inflação prejudica todos — até mesmo quem parece se beneficiar no início.
As Origens do Dinheiro
Se o valor do dinheiro deriva do que ele permite comprar e se sempre é avaliado à luz dos preços anteriores, como ele adquiriu valor inicialmente? Para responder, precisamos analisar o sistema de escambo.
O bem que evoluiu para dinheiro precisava ter utilidade própria antes de se tornar moeda — ou seja, seu poder de compra, no início, era dado pela demanda de outro uso. Quando começou a servir também como meio de troca, sua demanda e preço aumentaram. O bem passou a cumprir duas funções: fornecer valor de uso e facilitar trocas. Com o tempo, a função monetária tende a prevalecer sobre o uso original.
Esse é o ponto central do Teorema da Regressão de Mises, que explica como o dinheiro surge espontaneamente nos mercados e sempre mantém um elo com valores anteriores. Ele não é produto do Estado, mas resultado natural da troca voluntária.
O ouro se tornou moeda porque preenchia todos os pré-requisitos: durabilidade, divisibilidade, reconhecimento, portabilidade e escassez. Seu uso em joias e funções industriais ainda confere valor prático. Por séculos, notas bancárias eram apenas recibos resgatáveis em ouro. Notas de papel solucionaram o problema do transporte do ouro. Infelizmente, os emissores logo perceberam que podiam emitir mais recibos do que ouro disponível em seus cofres — e essa prática persiste até hoje.
Com a separação total entre ouro e papel-moeda, governos e bancos centrais ficaram livres para criar dinheiro a partir do nada, dando origem aos sistemas fiduciários atuais. Nesses sistemas, bancos conectados ao poder político podem ser socorridos mesmo em caso de falência, levando a risco moral, distorção dos sinais de risco e instabilidade sistêmica, tudo amparado na expropriação silenciosa da poupança via inflação.
A ligação histórica do dinheiro com preços passados é fundamental para que o mercado funcione. Sem essa referência, cálculos econômicos pessoais seriam inviáveis. O Teorema da Regressão Monetária, citado acima, é um dos principais insights da praxeologia, frequentemente ignorado em debates sobre dinheiro. Ele explica porque o dinheiro não é mera construção imaginária de burocratas, mas tem raízes concretas no momento em que o desejo de trocar meios por um fim específico o trouxe ao mundo real, via mercado livre.
O dinheiro nasce da troca voluntária, não de imposição política, ilusão coletiva ou contrato social. Qualquer bem com oferta limitada suficiente pode servir de moeda, desde que atenda aos demais critérios de um bom meio de troca: durabilidade, portabilidade, divisibilidade, uniformidade e aceitação.
Se a Mona Lisa fosse infinitamente divisível, suas partes poderiam servir de dinheiro — desde que existisse uma forma confiável de verificar a autenticidade de cada fragmento e evitar falsificações.
Aliás, há uma história sobre pintores famosos do século XX que exemplifica como o aumento da oferta de um bem monetário afeta seu valor percebido. Eles descobriram que podiam se beneficiar assinando contas em restaurantes, pois suas assinaturas tinham valor. Salvador Dalí chegou a assinar a carcaça de um carro que bateu, tornando-a peça de arte. Com o tempo, no entanto, a multiplicação dessas assinaturas reduziu o valor de cada uma, ilustrando a lei dos rendimentos marginais decrescentes: aumentar a quantidade reduz a qualidade.
O Maior Esquema de Pirâmide do Mundo
O mesmo se aplica às moedas fiduciárias. Ao expandir a oferta de moeda, cada unidade existente perde valor. Os primeiros a receber o novo dinheiro se beneficiam, o restante da sociedade perde. A inflação não é apenas técnica, é também uma questão moral: distorce o cálculo econômico, incentiva o endividamento em vez da poupança e prejudica especialmente os mais vulneráveis. Por esse prisma, a moeda fiduciária é o maior esquema de pirâmide já criado, enriquecendo poucos às custas da maioria.
Usamos dinheiro ruim porque herdamos esse sistema, não porque ele nos serve melhor. Porém, quando as pessoas compreenderem que dinheiro sólido (que não pode ser falsificado) é melhor para o mercado e para a sociedade, será possível rejeitar falsos recibos que não alimentam ninguém e construir uma economia em que o valor é real, honesto e conquistado.
Dinheiro sólido nasce da escolha voluntária, não de norma estatal. Qualquer item que atenda aos requisitos básicos pode servir como moeda, mas só o dinheiro sólido sustenta o progresso civilizatório no longo prazo. O dinheiro não é apenas ferramenta econômica — é instituição moral. Quando corrompido, tudo ao seu redor — poupança, preços, incentivos e confiança — se distorce. Com dinheiro honesto, o mercado consegue coordenar produção, sinalizar escassez, premiar a poupança e proteger os vulneráveis.
No fim, dinheiro é mais do que meio de troca: é proteção do tempo, registro de confiança e a linguagem universal da cooperação. Corrumpa isso e não só a economia quebra: é a própria civilização.
“O homem é um ser míope; enxerga pouco adiante e, já que suas paixões não são suas melhores conselheiras, suas afeições particulares costumam ser os piores conselheiros.”

Falsificação: Dinheiro Moderno e a Ilusão Fiduciária
Agora que já vimos como um bem negociável se transforma em dinheiro no livre mercado, e como o pensamento de longo prazo leva ao avanço e à queda de preços, podemos analisar como o dinheiro realmente funciona hoje. Você talvez já tenha ouvido falar em juros negativos e
se perguntado como isso se encaixa no princípio de que preferência temporal é sempre positiva. Ou então notou a alta de preços ao consumidor, que a mídia atribui a vários fatores, menos à expansão monetária.
A verdade sobre o dinheiro moderno é difícil de encarar: ao entender a dimensão do problema, tudo fica sombrio. O ser humano não resiste à tentação de enriquecer explorando outros por meio da emissão de moeda. A única solução seria nos remover do processo — ou, ao menos, separar dinheiro e Estado. O Nobel Friedrich Hayek sugeriu que isso só seria possível “por caminhos indiretos e criativos.”
O Reino Unido foi pioneiro ao enfraquecer o vínculo entre sua moeda nacional e o ouro. Antes da Primeira Guerra Mundial, quase todas as moedas eram conversíveis em ouro, padrão estabelecido ao longo de milênios. Mas em 1971, os EUA romperam o último elo: o presidente Nixon declarou que suspenderia “temporariamente” a conversibilidade do dólar em ouro, medida que, ao menos em parte, serviu para financiar a Guerra do Vietnã e proteger seu capital político.
Sem entrar em todos os detalhes, o fundamental é: a moeda estatal de hoje não tem lastro em nada tangível e é criada toda como dívida. A moeda fiduciária se apresenta como dinheiro, mas ao contrário do dinheiro real (que nasce da troca voluntária), serve apenas como instrumento de endividamento e controle.
Cada novo dólar, euro ou yuan surge como empréstimo de bancos. Esse dinheiro deve ser devolvido com juros. E já que esses juros nunca são criados junto com o principal, nunca haverá dinheiro suficiente para pagar toda a dívida. Na prática, o sistema exige dívida sem fim para continuar de pé. Bancos centrais modernos manipulam ainda mais a oferta monetária por mecanismos como resgates (salvando bancos ineficientes) ou expansão quantitativa, jogando mais lenha na fogueira.
A expansão quantitativa ocorre quando um banco central compra títulos do governo com moeda recém-criada, trocando promissórias por dinheiro novo. Títulos são promessas do Estado de devolver o dinheiro acrescido de juros, baseadas na sua capacidade de tributar cidadãos no presente e no futuro — enquanto você e seus descendentes lidam com preços mais altos. O resultado é um extrato silencioso e progressivo de riqueza dos produtivos, via inflação e dívida perpétua.
A impressão de dinheiro segue sustentada pelo keynesianismo — doutrina que embasa quase todas as políticas econômicas estatais. Keynesianos afirmam que o gasto impulsiona a economia e, se o setor privado não gastar o bastante, o Estado deve fazê-lo. Dizem que todo dólar gasto gera, por definição, mais valor. Mas ignoram a diluição do valor por inflação. Trata-se da Falácia da Janela Quebrada de Bastiat: adicionar zeros não cria valor.
Se impressão de moeda gerasse riqueza, todos nós já teríamos iates de luxo. O verdadeiro progresso nasce da produção, planejamento e troca voluntária, não de inflar dígitos nos balanços dos bancos centrais. Crescimento real demanda trocas com terceiros — inclusive com versões futuras de nós mesmos, ao poupar, adiar consumo e investir no futuro.
O Destino Final da Moeda Fiduciária
Imprimir mais dinheiro não acelera o mercado; apenas distorce e atrasa todo o processo. O resultado é perda de poder de compra, dificuldades no cálculo econômico e planejamento de longo prazo comprometido.
Todas as moedas fiduciárias acabam. Algumas colapsam com hiperinflação. Outras são substituídas por sistemas maiores (como a troca de moedas nacionais pelo euro). Até lá, a moeda fiduciária serve a um propósito oculto: transferir riqueza dos produtores de valor para os conectados ao poder político.
Esse é o chamado Efeito Cantillon, em homenagem ao economista Richard Cantillon. Quando entra dinheiro novo na economia, quem recebe primeiro sai na frente — compra antes dos aumentos de preços. Quem está longe da fonte (trabalhadores e poupadores comuns) arca com os custos. Ser pobre sob um sistema fiduciário é caríssimo.
Ainda assim, políticos, banqueiros centrais e economistas do mainstream insistem que uma inflação “moderada” é necessária. Deveriam saber melhor. Inflação não gera prosperidade. No máximo, muda a distribuição do poder de compra. No pior cenário, mina o fundamento da civilização ao destruir confiança em dinheiro, poupança e cooperação. A fartura de produtos baratos que vemos hoje não surgiu por causa dos impostos, fronteiras, inflação e burocracia — mas apesar deles.
O Bom, o Ruim e o Feio
Quando o mercado age livremente, ele entrega bens melhores e mais baratos para mais pessoas. Isso é progresso verdadeiro. Curiosamente, a praxeologia não serve só para criticar, mas também para valorizar. Muitos ficam cínicos diante dos problemas do sistema, mas a praxeologia traz clareza: evidencia que a prosperidade vem das pessoas produtivas, não dos governos. Entender isso faz até o trabalho mais simples ganhar novo significado: o caixa do mercado, a faxineira, o taxista — todos sustentam um sistema de atendimento às necessidades humanas, por cooperação voluntária e criação de valor. Eles são a base da civilização.
O mercado cria coisas boas. O governo, via de regra, gera coisas ruins. A competição nos mercados — onde negócios disputam oferecendo mais valor — é a locomotiva da inovação. A competição política, por outro lado, recompensa manipulação e não mérito. Os mais adaptáveis prosperam no mercado. Os mais inescrupulosos prosperam na política.
A praxeologia revela os incentivos humanos. Ensina a observar ações concretas, não apenas discursos. E, acima de tudo, a refletir sobre o que deixou de existir devido a interferências. Esse é o mundo invisível, onde possibilidades são eliminadas pela intervenção estatal.
Medo, Incerteza e Dúvida
Somos naturalmente propensos ao medo — evolução nos treinou para sobreviver a ameaças, não para admirar flores. Por isso, alertas alarmistas se propagam mais rápido que a esperança. A suposta solução para toda crise — terrorismo, pandemias, mudanças climáticas — é sempre a mesma: mais poder político.
Estudiosos da ação humana entendem a razão: para todo agente, os fins justificam os meios. O problema é que isso também se aplica aos que buscam poder. Oferecem segurança à custa da liberdade, mas a história mostra que barganhas motivadas pelo medo quase nunca compensam. Quem compreende essas dinâmicas vê o mundo com mais clareza. O ruído desaparece.
Você desliga a TV. Recupera seu tempo. E percebe que acumular capital e libertar seu próprio tempo não é egoísmo, mas a base para ajudar outros.
Investir em você mesmo — em habilidades, poupança, relacionamentos — aumenta a prosperidade para todos. Você participa da divisão do trabalho, gera valor e faz isso de forma voluntária. A atitude mais subversiva em um sistema disfuncional é construir algo melhor fora dele.
Cada vez que usa moeda fiduciária, paga seus emissores com seu tempo. Se puder evitá-la totalmente, contribui para um mundo mais honesto. Não é fácil, mas toda grande empreitada exige esforço.
Knut Svanholm é educador em Bitcoin, escritor, pensador independente e podcaster. Este texto é um trecho adaptado de seu livro Praxeology: The Invisible Hand that Feeds You, publicado pela Lemniscate Media, em 27 de maio de 2025.
BM Big Reads publica semanalmente artigos aprofundados sobre temas atuais de interesse para o Bitcoin e seus entusiastas. As opiniões são dos autores e não refletem as posições da BTC Inc ou da Bitcoin Magazine. Se quiser enviar texto para avaliação, escreva para editor[at]bitcoinmagazine.com.
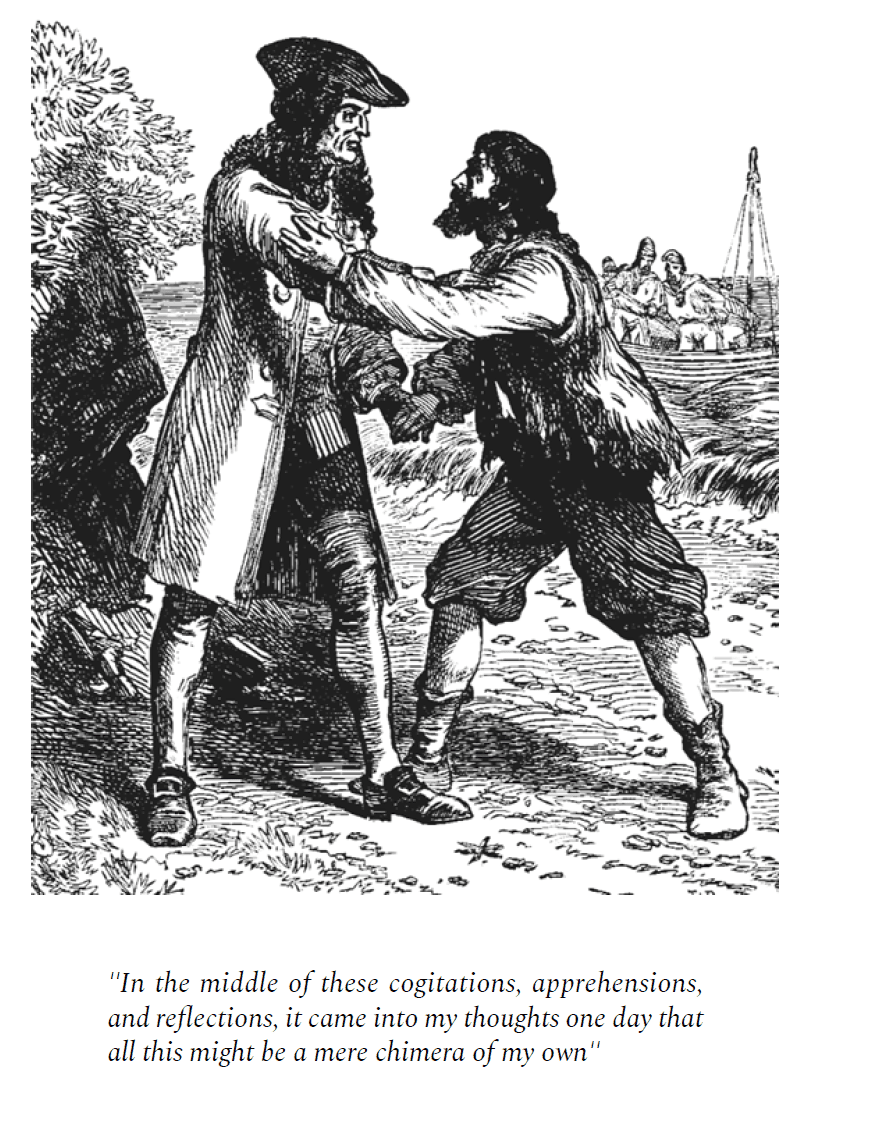
Aviso legal:
- Este artigo é uma reprodução de [Bitcoinmagazine]. Todos os direitos autorais pertencem ao autor [Knut Svanholm]. Em caso de qualquer objeção, entre em contato com a equipe do Gate Learn, que tomará as providências necessárias.
- Aviso de responsabilidade: As opiniões neste artigo são do autor e não representam recomendação financeira ou de investimento.
- Traduções para outros idiomas foram realizadas pela equipe Gate Learn. Salvo indicação, não é permitida a cópia, distribuição ou plágio dos conteúdos traduzidos.
Artigos Relacionados

O que é Bitcoin?

O que é o PolygonScan e como você pode usá-lo? (Atualização 2025)

O que é EtherVista, o autoproclamado "Novo Padrão para DEX"?

O que é Tronscan e como você pode usá-lo em 2025?

O que é Coti? Tudo o que você precisa saber sobre o COTI
